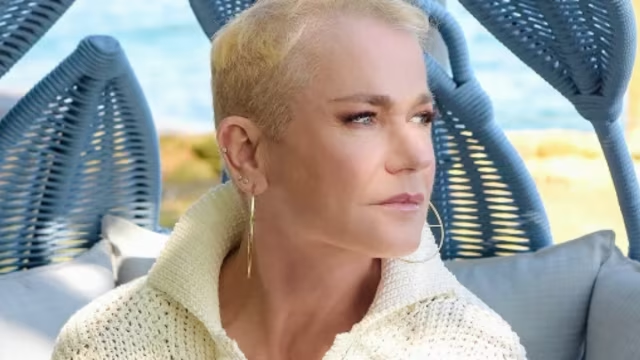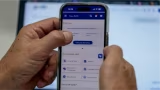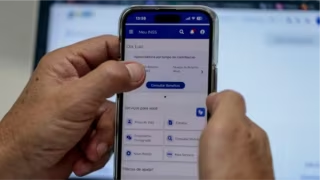Todos os anos, milhões de pessoas têm a vida transformada em questão de minutos. Um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro é obstruído, os neurônios começam a morrer e o tempo passa a contar contra o paciente.
É o derrame, um dos principais responsáveis por incapacidade em adultos. Estima-se que uma em cada seis pessoas terá um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ao longo da vida.
O cérebro humano é o órgão mais complexo do corpo. Sua arquitetura celular e a organização em redes neuronais permitem funções sofisticadas, como linguagem, memória e tomada de decisões abstratas.
Essa mesma complexidade, porém, tem um custo: o tecido cerebral possui capacidade muito limitada de regeneração. Ao contrário da pele ou do fígado, neurônios que morrem raramente são substituídos.
Por isso, lesões cerebrais estão na origem de muitas patologias associadas ao envelhecimento. Entre as mais graves e frequentes está o AVC isquêmico, causado pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma área do cérebro. Embora os tratamentos de emergência tenham melhorado as taxas de sobrevivência, ainda não existe uma terapia capaz de reparar de fato os danos neuronais provocados por um AVC.
A reabilitação ajuda na recuperação de parte das funções, mas muitos pacientes convivem com limitações motoras e cognitivas permanentes. Além disso, após um AVC aumenta o risco de depressão, demência e outras doenças neurodegenerativas. Esse cenário, porém, pode mudar com o avanço das terapias baseadas em células-tronco.
Uma nova fronteira na medicina regenerativa
Nas últimas décadas, terapias celulares vêm abrindo caminho para uma nova geração de tratamentos em medicina regenerativa. O objetivo é substituir ou reparar tecidos danificados por meio da introdução de novas células, capazes de sobreviver, amadurecer e voltar a exercer funções que foram perdidas.
No cérebro, esse enfoque é especialmente relevante. Apesar do alto potencial, o desenvolvimento dessas terapias é lento: precisa se adaptar à legislação de cada país e depende de investimentos financeiros significativos.
Um marco importante ocorreu no fim dos anos 1980, no Hospital Universitário de Lund, na Suécia. Uma equipe liderada por Anders Björklund e Olle Lindvall conseguiu transplantar células-tronco neurais no cérebro de pacientes com doença de Parkinson, condição caracterizada pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos, fundamentais para o controle dos movimentos.
Os resultados foram considerados extraordinários: ao substituir neurônios danificados, muitos pacientes recuperaram a função motora por mais de uma década. Essas experiências ofereceram a primeira demonstração robusta de que o cérebro humano pode ser reparado com células vivas.
Desde então, a pesquisa avançou, técnicas foram refinadas e a regulamentação europeia estabeleceu marcos rigorosos para garantir segurança e qualidade desses tratamentos, hoje classificados como medicamentos de terapia avançada (ATMP, na sigla em inglês).
Atualmente, diversos ensaios clínicos em todo o mundo dão continuidade ao trabalho de Björklund e Lindvall e alimentam a esperança de pacientes com Parkinson e outras doenças que afetam o cérebro.
Por que o AVC é um desafio diferente
Apesar de inspirar inúmeras pesquisas, o derrame cerebral coloca obstáculos distintos dos encontrados na doença de Parkinson. A lesão isquêmica costuma ser mais extensa e heterogênea: não envolve apenas um tipo celular, mas múltiplas populações de neurônios, células gliais e vasos sanguíneos.
Após um transplante, não basta que as novas células sobrevivam no cérebro. Elas precisam se integrar funcionalmente: enviar axônios (prolongamentos que transmitem impulsos nervosos), estabelecer sinapses adequadas com neurônios sobreviventes e participar de forma ativa dos circuitos cerebrais.
A tarefa é comparável a reconstruir não só a estrutura de uma ponte, mas também o fluxo de veículos sobre ela. As conexões têm de ser restabelecidas na configuração correta para que a informação circule. No AVC, o desafio não é apenas repor células, mas reconectar o cérebro.
Engenharia genética como virada de chave
É nesse ponto que a engenharia genética se torna decisiva. Essa área permite modificar células para torná-las mais eficazes, mais resistentes ou mais aptas a se integrar em tecidos danificados.
No caso descrito pelos pesquisadores, as células transplantadas recebem o gene que codifica a proteína BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), um fator neurotrófico envolvido no desenvolvimento do cérebro e que favorece o crescimento de axônios e a formação de sinapses.
A estratégia busca facilitar a integração funcional dos novos neurônios ao tecido lesionado, passo fundamental para que o transplante não se limite a preencher um “vazio” anatômico, mas contribua para restaurar a comunicação neuronal.
Os dilemas éticos das novas terapias
A capacidade de manipular geneticamente células também levanta questões éticas relevantes, sobretudo em relação aos limites dessas intervenções e a seus efeitos em longo prazo.
Os primeiros transplantes em pacientes com Parkinson mencionados anteriormente foram realizados com células-tronco obtidas de tecido fetal. Hoje, graças ao trabalho do pesquisador japonês Shinya Yamanaka, laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 2012 por descobrir as células-tronco de pluripotência induzida (iPS), tornou-se possível gerar células-tronco a partir de células adultas do próprio paciente.
É frequente a produção, em laboratório, de células iPS a partir de biópsias de pele. Dessa forma, reduz-se boa parte dos conflitos éticos ligados ao uso de embriões e também o risco de rejeição imunológica.
O debate, portanto, já não se concentra em saber se é possível modificar células para reparar o cérebro, mas em .
Do impossível ao laboratório
A história da medicina é construída por sucessivas vitórias sobre o que antes parecia impossível. Poucas décadas atrás, a ideia de curar um cérebro danificado soava como um sonho inatingível. Hoje, com a combinação de biologia, engenharia genética e medicina regenerativa, esse sonho começa a ganhar forma nos laboratórios.
Ainda existem muitos obstáculos a superar, mas cada avanço reforça uma mensagem central: o cérebro não apenas aprende — ele também pode ser reparado.
Este artigo foi originalmente publicado em espanhol no The Conversation.
Daniel Tornero Prieto é professor de Biologia Celular e diretor do Laboratório de Células-Tronco Neurais e Lesões Cerebrais da Universidade de Barcelona.
Santiago Ramos Bartolomé é biotecnólogo e antropólogo biológico da Universidade de Barcelona.
Alba Ortega Gascó é pesquisadora de pós-doutorado em Neurociência na Universidade de Barcelona.
Informações relatadas pelo portal G1.
 FAMOSOS
FAMOSOS